domingo, 30 de setembro de 2012
30 de Setembro de 1977
• Não sei o que vai ser
dos escritores proletarianos, neo ou sócio-realistas, quando o processo
revolucionário tiver alcançado os seus objectivos económico-políticos, e não
houver mais ricas a esfolar nem mais pobres a explorar (no bom sentido,
entenda-se!) pela literatura.
sábado, 29 de setembro de 2012
Coimbra, 29 de Setembro de 1980
Coimbra, 29 de Setembro de 1980 – Mais uma campanha
eleitoral. Mais um aturdimento retórico e falacioso de ponta a ponta de
Portugal. Não há praça sem alto-falante, rua sem bandeira, parede sem cartaz,
poste ou tronco de árvore sem símbolo partidário. A televisão e a rádio não dão
tréguas aos olhos e aos ouvidos. E os jornais vêm cheios de discursos para
todas as paixões. É um derrame de palavras a que nenhum fastio se pode esquivar
e em que no fundo ninguém acredita, de tal modo é flagrante a sua
inautenticidade. Mas a projecção do amordaçamento passado e traumatismos ainda
recentes juntam-se no retraimento colectivo. E a euforia prosélita, sem cuidar
dessas feridas, entende a passividade circundante como simpatia. Não há facção,
por insignificante que seja, que não celebre antecipadamente o triunfo.
Reduzidos a um chorrilho de estribilhos, os programas mais antagónicos parecem
iguais na obsessão sonora. O sonho primaveril de um país renascido, lúcido,
saudavelmente apostado em dignificar os seus padrões de liberdade, sem
confundir a abertura de espírito com a ausência de critério, deu nisto: a
tirania silenciosa de outrora a vingar-se na demagogia ruidosa de agora.
29 de Setembro de 1977
• «Só há no mundo uma
maneira de amar, e o amor é uma delícia!», diz ela, sem explicações. E ele: «Há
tantas maneiras de amar quantos os espíritos individuais!»
• O que mais me assusta
é este constante roçadilho de corpos hostis e de espíritos opiniosos,
intransigentes, inconciliáveis, mas no fundo pueris, que entre nós é o chamado
convívio.
• «Ah, que beleza a
destes primitivos ou naturais!», brada uma excursionista recém-chegada das
ilhas do mar de Caribe (que
nós, servilmente afrancesados, chamamos «as Caraíbas»). «Mas, minha boa amiga,
pois então ainda se não deu conta de que eles são professional natives – indígenas profissionais – que vivem à custa
dos turistas pacóvios, e em especial das americanas em mal de amor?»
• NEUTRO?! De modo algum!
Muitíssimo do Contra! Do Contra-Tudo-e-Todos, Gregos e Troianos! Homem só da
vigilante oposição do culto da verdade – doa a quem doer! A começar por ele
próprio!
• «O meu erro», diz este
idealista arrependido: «Só tarde me ter dado Conta de que vivia e lutava entre (e
a favor!) de videirinhos, oportunistas, hipócritas – e burros! De todos os que
aderem a um só ideal: o Emprego!»
• Eu escolhi o
anonimato, a obscuridade, a modéstia do viver, a humildade (que não deves
confundir com a humilhação!) –, e um orgulho paradoxal, mais ardente que o sol
de Julho, no dizer do poeta. Tudo isso, junto, me assegurou a verdadeira
liberdade, que é a independência pessoal. Cujo preço porém é sempre
exorbitante!
• «Não há esquerdas nem direitas!
São mitos!», brada o Mestre ilustre, para quem a «questão de regime» também não
tem importância.
«Mas, Mestre: o
senhor acredita no Céu e no Inferno?»
«Nem a
brincar!»
«Porque são
mitos também! E, no entanto, têm dado frutos históricos, políticos, éticos e
sociais de incalculável alcance! Os mitos são realidades imponderáveis, tão
eficazes como as doutrinas, as ideologias, as demonstrações pelo absurdo, e as
outras realidades… espirituais!»
«O mito é o nada que é tudo.» F. Pessoa.
• O amor das mulheres
dava-lhe tais contrariedades, ciúmes, tormentos, conflitos e perdas de tempo,
que ele chegou a preferir (embora com muita pena) que elas o deixassem
definitivamente em paz, para poder consagrar-se ao seu trabalho. Bom, com uma
pequena interrupção ocasional, de longe em longe, dizia, para aliviar!
• As teorias futuristas
e cubistas de «dinamismo» – decomposição de movimentos ou de objectos, como em Nu Descendo a Escada de Marcel Duchamp, ou o Cão à Trela de Bolla – falharam por
completo: deram imagens curiosas, de multiplicidade, mas tão imóveis como
inutilmente complicadas. Aliás, a Arte – a obra de Arte – não exprime, não
traduz, não representa, imita ou interpreta senão o que é ela própria. Além de
que cada objecto (paisagem, pessoa, seja o que for) pode ter mil diversas
«representações», conforme o estilo, o gesto, a hora, a luz, o meio empregado,
a disposição do artista ou do sujeito, etc. O objecto da Arte é o objecto de
Arte.
• Os povos, como os
indivíduos, carregam o peso dos seus erros passados. O mal é que, uns como os
outros, nem sempre o sabem fazer alegremente, ou, pelo menos, com equanimidade.
• Ainda foi no tempo
distante do liceu. Diz-me o X., confidendaI: «Se estou apaixonado, morro; se o
não estou… não vivo! Que te parece isto?» «Parece-me Camões!»
sexta-feira, 28 de setembro de 2012
Dia 28 [Setembro de 2009]
Formentor
O homem põe,
porém são as circunstâncias as que dispõem. Depois de tantos meses saboreando
por antecipação a projectada viagem a Mallorca, o encontro com
amigos, o debate anunciado, eis que as razões de uma saúde que necessita ser
vigiada vieram desaconselhar a deslocação: as já citadas circunstâncias e
acasos determinaram que alguns exames que devo fazer coincidissem com as
datas do encontro. Paciência. Haverá outros Formentor e em algum
deles estarei. Estas palavras dirijo-as a todos os participantes do encontro,
conferencistas e público. Exprimem o meu pesar pela forçada ausência, mas, ao
mesmo tempo, querem dar testemunho da importância da continuidade de Formentor,
tanto pelas obrigações contraídas no passado como pelas esperanças que o seu
regresso vai trazer à definição de novas estratégias no plano da acção
cultural. O espírito livre de Formentor dos anos 60 deve ser revivificado, e
este é o momento exacto para fazê-lo. Todos sentimos que soou a hora de
levantar outra vez a palavra para promover a reflexão livre e, que não se
escandalizem os ouvidos castos, a justa dissidência. Disso se trata: dissentir
é um dos dois direitos que faltam à Declaração
dos Direitos Humanos. O outro é o direito à heresia. Os participantes do «velho»
Formentor, entre os quais, além de Carlos Barral, me apraz
recordar o meu colega José Cardoso Pires,
sabiam-no, todo o seu empenho se orientou no sentido de uma necessária desmitificação
de conceitos e na aclaração da função social do escritor, com independência de
laços ideológicos ou partidários. Falemos claro e entender-nos-emos uns aos
outros. A todos saúdo, amigos e desconhecidos, a Perfecto
Cuadrado, e também a Juan
Goytisolo a quem quero deixar expressos nesta breve declaração todo o meu
respeito e toda a minha admiração.
José Saramago, O CADERNO
quinta-feira, 27 de setembro de 2012
S. Martinho de Anta, 27 de Setembro de 1980
QUIETUDE
Que poema de paz agora me
apetece!
Sereno,
Transparente,
A sugerir somente
Um rio já cansado de correr,
Um doce entardecer,
Um fim de sementeira.
Versos como cordeiros a
pastar,
Sem o meu nome, em baixo, a
recordar
Os outros que cantei a vida
inteira.
27 de Setembro de 1977
• Tu que dizes amar a solidão,
mas vives rodeada de gente que de algum modo te serve, compreenderás que eu não
sei passar sem a minha audiência (ou meu «público» na tua expressão) e, no
entanto, vegeto na mais espessa e irrespirável solidão? Essas raras «exibições»
em que me vês admirado, querido, aplaudido, e no fundo lisonjeado, deixam-me
num profundo desgosto de mim mesmo, do antieu, acabrunhado e dorido ao ponto de
não poder escrever – e por vezes, até, obcecado e apavorado pela ideia do suicídio
que já me perseguira depois das euforias dos quinze anos? Mas é bom ter consciência
disso: um preventivo da tentação.
quarta-feira, 26 de setembro de 2012
S. Martinho de Anta, 26 de Setembro de 1980
S. Martinho de Anta, 26 de Setembro de 1980 – Apanha da fruta. É dos
poucos gostos que ainda tenho na vida. Trepar por elas acima e fazer prodígios
de equilíbrio na crista das macieiras e pereiras. Volto de repente à infância,
mas agora a depenar cada pernada sem medo que o dono do pomar me venha puxar as
orelhas.
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
O FATO COÇADO
Tenho destes
hábitos antigos e modestos, que contrastam com o tempo em que vivo: pura sair à
noite, a dar o meu giro digestivo, nada me agrada tanto como envergar um fato
de há cinco ou seis anos, que as exigências do ofício e os rogos da Umbelina
relegaram para um canto do nosso guarda-roupa. Assenta-me como uma luva, nunca
me pareceu tão bem cortado, tão despretensioso, tão cómodo e discreto. «Já hoje
se não faz disto!», digo eu contente. E não. O próprio facto de estar um tanto
fora da moda (na gola, sobretudo) lhe dá não sei que apuro e distinção. Traz
mesmo uma pontinha de cheiro a naftalina, que lisonjeia o meu olfacto amigo da
conservação. Dois ou três anos que passou a bom recato, ao abrigo da traça,
desenrugaram-lhe as mangas e quase desvaneceram os vestígios do uso. Parece
outro, repousado. «Parece novo!», diz a Umbelina, regalada, a acaricia-lo com a
escova sedosa. E com esta vantagem sobre as coisas novas: não me exige nenhum
esforço de adaptação, sinto-me nele à vontade, sem este ar de novidade que
sempre me embaraça. As coisas usadas parecem mais familiares, mais pessoais,
menos cerimoniosas ou exibicionistas. Nem os amigos e conhecidos (o Almeida!)
que encontro na rua param a cumprimentar-me com a habitual discrição lusitana:
«Bravo, seu Artur! Com que então, farpela nova, hã? Donde é que lhe veio a
herança?» – e tal. Como se eu não
o tivesse bem ganho com o suor do rosto. Positivamente, estes nossos amigos não
nos perdoam o que se chama uma camisa lavada. Mas conseguem intimidar-me,
dar-me um remorso do privilégio. Além disso, há três coisas que, entre outras,
eu detesto soberanamente: provar um fato, cortar as unhas, ir ao barbeiro ou ao
dentista. Chego a preferir este último, palavra de honra.
Saio de casa
muito senhor de mim, gozando, de mãos nos bolsos e cigarro na boca, e penso:
«Quero eu cá saber que eles reparem?
(Reparar, dar nas vistas, o que irão dizer, etc., são formas da minha imensa
boa educação, do meu senso lusíada das «maneiras».) Saibam que tenho lá em
casa, para as ocasiões, um belo fato novo cor de mosto, às riscas, que desejo
poupar como se poupam as raras horas de alegria!» Compreenderiam eles?
De mim para
mim, orgulho-me deste nobre sentido da poupança. A certeza de que um rasgão
aberto na manga pela aresta duma chapa de zinco traiçoeira ou a mancha de
ripolin duma porta pintada de fresco me não impossibilitarão de sair amanhã de
manhã às minhas ocupações, dá-me uma sensação de conforto e bem-estar, quase de
felicidade. Chegar a casa e dizer assim à patroa: «Olha lá se fosse o novo, hã?
Que sorte!» Ou então ouvi-la: «Se não tivéssemos
outro, estavas bem arranjado!» (Tudo o que temos, incluindo as minhas roupas,
temos em comum, na dela.)
Aqui entre nós,
chega-me a apetecer dar-lhe uma tesourada, só para experimentar a inefável
alegria das dores irremediáveis. Mas nem pensar nisso! Sempre me pareceu
abominável destruir só pelo prazer de. Um crime anti-social. Não, que este
paletó (por sinal trago-o hoje vestido), no dia em que eu não precisar mais dele,
ainda pode fazer o agasalho de um pobre. E então agora, que vêm tantos bater a
esta porta, novos e velhos, desempregados, a pedir um trapo usado para se
aquecer! Mas vou adiando sempre o acto generoso. E espicaça-me um remorso: Para
que diabo é que eu hei-de conservar tão ciosamente a roupa velha? Não é porque
nós poupamos que falta aos pobres: é pelo que lhes não damos, ou lhes tiramos… Já
me tem acontecido ela dar uma coisa minha a um pedinte: o meu primeiro impulso,
ao sabê-lo, é de irritação; depois compreendo-a, e chegamos os dois às lágrimas…
Continuo a
matutar: «Que me importa a mim molhar hoje os pés, dentro deste par de sapatos
velhos, se eu sei que amanhã poderei confortavelmente encaixá-los no forro
quente e espesso das botas de calf
inglês, soda dupla, que me esperam lá em casa, sólidas, impermeáveis,
imponentes como dois granadeiros de S. M. Britânica, e como ela indestrutíveis?
Ah, não há nada, para saber o que vale um par de botas novas, como andar um dia
inteiro à chuva e na lama, com um par de sapatos rotos nos pés!» ([i])
Se eu sei... E a ideia surge-me assim, com toda a nitidez: o que
verdadeiramente importa, nestes dias de Inverno, não é andar de calçado gasto e
com pés alagados: é não ter lá em casa um par de sapatos novos para mudar.
Isto até me
sugere uma teoria nova (com sua licença) da Dor: a Dor é em geral um sentimento
relativo e social, quase uma abstracção. O que me faz sofrer, o que me fere e
magoa, não é a dor das fibras e dos ossos, mas as suas causas e condições, a
privação relativa, os contrastes, o ridículo, o orgulho ferido, a humilhação em
que o desastre ou o acidente me colocam. Sem isso, a Dor seria muito mais
tolerável, quase indiferente. Chego a ter vontade de dizer: a Dor (esta
maiúscula está-me a parecer um bocado retórica, mas enfim!) pertence ao domínio
da Sociologia. Mas cautela aí com o paradoxo! Creiam que até já deixei de
acreditar nos cidadãos bem cuidados, bem nutridos, mimados, que me vêm falar da
sua Dor (vá lá outra vez com D), da Angústia, e coisas parecidas. No fundo,
talvez não passe de remorso.
Vejam por
exemplo o Albino, coitado: o Albino chegou outro dia ao escritório com cinco
minutos de atraso. (Ê muito pontual.) Daí a pouco ninguém parava com o fedor a
benzina. Todos se queixavam, menos ele. Estava com o nariz enterrado no Borrador.
Até foi preciso abrir as janelas. «Que raio de pivete a benzina!», disse o
Ponce. «Algum de vocês matou hoje o bicho com benzina?» Risota geral… O Albino,
coitado, moita. Vermelho até à raiz do cabelo.
Compreendo bem
a sua humilhação: teria de confessar que não tem outro casaco. A benzina o
denuncia. Vida de estreiteza, de poupança. É a mãe, velhota e viúva, com quem
ele mora por não ter meios (ou ter medo) de casar, que lhe inspeciona as roupas
e lhe tira as nódoas. Estou a vê-lo nessa manhã, em mangas de camisa, em pé no
meio da casa, a bater os queixos com frio, cheio de impaciência: «Então, mãe,
não me demore, criatura! Por sua causa vou chegar tarde ao emprego!» E pela
tarde, ao voltar a casa: «Não me torne a limpar a roupa com essa bodega! Foi
uma chuchadeira pegada no escritório!» E a velhota: «Mas ó filho, tu não hás-de
andar agora com a roupinha cheia de nódoas, como um moço de taberna! Deixá-los
rir. Ao menos, porco ninguém te pode chamar.»
Há pessoas
assim, foram criadas na «decência», no «parece-mal», e o sonho delas é ir ali
para o Alto-do-se-m’intendes com uma camisa lavada e uma roupinha decente.
Perca-se tudo menos a vergonha. É quanto a vida lhes oferece, contra os
sacrifícios que por ela fazem.
Está visto que
o fedor da benzina, em si, pode incomodar, mas não deprime. (A mim dá-me volta
ao estômago, são idiossincrasias. A civilização do petróleo, do motor Diesel,
arrasa-me! Mas há quem goste, e até quem beba o pitrolino misturado com cachaça!) O que humilha, o que dói – cá
estou na minha teoria – e a sensação de acanhamento que ele produz. Anda um
homem pela rua, ou seja onde for, a espiar os outros, encolhido, vexado, a ver
se lhes descobre nos olhos, nas ventas arreganhadas, algum sinal de percepção irritada.
É como ter uma doença repugnante à vista, ou ter praticado um acto menos limpo.
É corno ter comido, por exemplo, açorda de alho, e passar o dia a restituir a
alma dele na cara do parceiro. Vexames!
É o fato, o
fato único, esta espiga. Isso é que dói. Quando os outros têm quatro ou cinco –
ou cem. Não é tanto o não ter que dói, como sentir que outros têm, ou têm
demais, o que nos falta. Mas não vamos nós além da Bota!
Ninguém teria
ousado perguntar àquele cavalheiro de idade, tão sereno e composto, o que é que
ele levava embrulhado debaixo do braço com tanto cuidado. Algum jarrão da Índia,
quem sabe lá. Ou um cache-pot de
faiança. Quase elegante que ele ia, com o seu embrulho sobraçado. E de repente
– nem sei como aquilo foi, acho que me distraí a olhar um par de meias de seda
que passou com pernas dentro – sei que ouvi um estoiro, e que o vi estendido ao
comprido, lorpamente chapado no passeio. Parece que andamos sempre à procura de
acidentes que nos tornem solidários: mais uma vez corremos uns quantos a
ajudá-lo, pusemo-lo em pé, apanhámos-lhe o chapéu, sacudimos-lhe o pó da roupa.
Magoou-se? Não foi nada. Só o susto… E o embrulho? A guita tinha-se partido, o
papel rebentara, e descobrimos o que ele levava dentro: um objecto redondo,
para uso íntimo e nocturno, com uma asa, feito em mil cacos! Mas não é tudo:
dentro da faiança barata iam bem um quilo de cebolas, que rebolaram alegremente
ao longo da valeta, em liberdade. Cebolas! (Dá vontade de dizer Cebolório!) Era impossível apanhá-las
uma por uma e metê-las no vaso escavacado. O vexame do sujeito foi tão grande
que eu até virei a cara, envergonhado. Se fosse comigo tinha chorado, podem ter
a certeza; tinha fugido, eu sei lá, capaz até de me divorciar como protesto
contra tais obrigações matrimoniais. Se fosse um jarrão de porcelana! E cheio
de bolas de ténis ou golf! Mas de
cebolas! Em volta do pobre homem foi um escarcéu de risota. E os garotos a
trazer-lhe as cebolas uma por uma. Com ar de troça…
Estas
humilhações é que doem. A dor é isso. A da pobreza envergonhada, ou da que se
quer fazer passar por outra coisa. Os dentes só nos doem verdadeiramente quando
sabemos que não podemos ir ao dentista.
Ainda outro
dia, nas corridas de obstáculos da Matinha: o visconde de Pregalhos levou um
tombo de alto lá com ele. Milagre foi não ter partido aquele espinhaço, que
além de ser o cabide onde traz suspenso o canastro de heráldica elegância, é
hoje a derradeira esperança legítima de continuidade das ancestrais virtudes da
Casa.
Muitos ais,
algum sangue, delíquios, correrias, gritinhos, ajuntamento em volta da automaca…
Mas qual, as costelas partidas não lhe doeram absolutamente nada. Portou-se –
dizem os círculos selectos – «com a estóica serenidade com que os seus Maiores
aguentavam os golpes dos Infiéis nas rudes Batalhas de Antanho». (Gosto imenso
destas palavras arcaicas. E então em maiúsculas! Oxalá não venham por aí abaixo
outros infiéis com outras batalhas menos de antanho.) Noite e dia velam-no,
além das zelosas irmãzinhas dos enfermos, anjos-da-guarda que Deus põe à
cabeceira dos cavaleiros caídos, as mais delicadas e nervosas flores da
aristocracia e da elegância. Grandes nomes. Herdeiras. Embaixatrizes. Umas
santas! (Também se fala em cenas de ciúmes.)
É muito
provável que, a tardar a soldadura das costelas felizmente fracturadas, se
restaure por um bom casório aquela espinha que os embaraços financeiros, também
históricos na Casa, traziam algo desviada do primitivo aprumo.
Foi uma honra,
uma distinção, um reclamo. O visconde, sistematicamente um dos últimos
classificados do steeple-chase,
viu-se de um instante para o outro guindado a herói do dia, e apalpa agradecido
os lombos equimosados. Acredito mesmo que os vencedores, abandonados e
esquecidos, com as suas taças de prata e diplomas de honra, se torcem de inveja
diante das objectivas pressurosas da imprensa. Aquele triunfo na derrota, ou
ascensão na queda, nunca eles o hão-de perdoar ao venturoso enfermo.
E o visconde,
na cama, todo envolto em ligaduras e adesivos, aromas, desinfectantes e
sorrisos de mel, põe os olhos no Crucificado e agradece-lhe a imperícia com que
Ele o dotou para os saltos de barreira e cancela. Abençoada fractura, dor
bendita! – Não tarda muito que um elegante casamento…
(Resolvi agora
mesmo dar o tal fato usado a um pobre.)
(Inédita, 1926-27)
Aquilegia formosa

Aquilegia formosa, uma planta nativa da América conhecida pela suas flores pendentes com esporas vermelhas.
domingo, 23 de setembro de 2012
Chove. Há silêncio, porque a mesma chuva
Chove. Há silêncio, porque a mesma chuva
Não faz ruído senão com sossego.
Chove. O céu dorme. Quando a alma é viúva
Do que não sabe, o sentimento é cego.
Chove. Meu ser (quem sou) renego...
Tão calma é a chuva que se solta no ar
(Nem parece de nuvens) que parece
Que não é chuva, mas um sussurrar
Que de si mesmo, ao sussurrar, se esquece.
Chove. Nada apetece...
Não paira vento, não há céu que eu sinta.
Chove longínqua e indistintamente,
Como uma coisa certa que nos minta,
Como um grande desejo que nos mente.
Chove. Nada em mim sente...
Não faz ruído senão com sossego.
Chove. O céu dorme. Quando a alma é viúva
Do que não sabe, o sentimento é cego.
Chove. Meu ser (quem sou) renego...
Tão calma é a chuva que se solta no ar
(Nem parece de nuvens) que parece
Que não é chuva, mas um sussurrar
Que de si mesmo, ao sussurrar, se esquece.
Chove. Nada apetece...
Não paira vento, não há céu que eu sinta.
Chove longínqua e indistintamente,
Como uma coisa certa que nos minta,
Como um grande desejo que nos mente.
Chove. Nada em mim sente...
S. Martinho de Anta, 23 de Setembro de 1980
S. Martinho de Anta, 23 de Setembro de 1980 – A aflição de ver fugir o
tempo quando necessitamos dele para levar a cabo a tarefa de o perpetuar!
sexta-feira, 21 de setembro de 2012
21 de Setembro de 1977
• O velho humorista Câmara
Lima, queixando-se um dia ao actor Taborda dos seus inexplicáveis achaques,
repetiu-lhe, lamentoso, o que o médico lhe receitara por todo e único remédio:
«O que o senhor precisa é de ter ralações! Arranje coisas que o apoquentem!»
Taborda ouviu-o com paciência, e no fim: «Então até mais ver, senhor Câmara
Lima. E Deus lhe dê muitas apoquentações como tanto precisa!»
Fica comigo
Fica comigo. Daqui
a nada é noite e as noites custam, a mim custam, sobretudo quando os candeeiros
da rua se acendem e as árvores e os prédios fronteiros logo diferentes, quase
ninguém na rua, um miúdo com um cão lá ao fundo, uma tristeza parada na tonalidade
do silêncio, estes móveis e estes retratos que não me ligam nenhuma, os teus passos
na escada, tu no passeio: nem vou à janela olhar, não quero olhar. Fica comigo
só mais um bocadinho, dez minutos, meia hora, sei lá, o tempo inteiro. Mesmo
que não fales. Mesmo que leias a revista do jornal. Mesmo que não me toques.
Mesmo como se eu não existisse. Há alturas, imagina, em que penso que não
existo e depois vem a aflição, o medo, o meu pulso tão rápido, a voz da minha
mãe, do fundo da infância
– o que se
passa contigo?
e não sei
explicar, é impossível explicar porque não se passa nada de concreto, mãe,
podia responder que uma coisa vaga e todavia não se trata de uma coisa vaga,
trata-se de uma coisa real, verdadeira, uma sede não de água, de não sei quê,
uma aflição de perda embora, que eu saiba, não tenha perdido nada, parece que
está tudo como deve ser à minha volta e não está, não compreendo o que falta
mas não está, tem paciência ajuda-me, fica comigo, não peço muito pois não, é
difícil isto, talvez não compreendas mas é difícil isto, não preciso que finjas
que te interessas, não preciso que me dês atenção, apenas, como dizia o outro,
um estar aí que é já tanto, sentir-te respirar, sentir o teu cheiro, contento-me
com pouco, vês, uma respiração, um cheiro, a minha mãe
– Foi sempre tão
sensível aos cheiros começou a franzir-se logo com um ano ou dois
e embora seja
um bocadinho exagerada, há alguma mãe que não exagere, é capaz de ser verdade
mais ano menos ano, mais mês menos mês, daqui a nada, já viste, é noite e as noites
custam, quando tinha febre pensava
– Daqui a
pouco
é dia e
sentia-me melhor como se o dia me salvasse ignorava de quê, na realidade não
salvava de nada, o aspirador pela casa inteira, ruídos que eu imaginava que me
confortavam e não confortavam nem meia, chinelos, loiça, um
– Poça
quando se
trilhava ou quebrava uma unha, havia sempre adesivo num dedo no esforço de
salvar a unha, a importância que a minha mãe dava às unhas, herdei isso dela
para além do nariz, nunca vi narizes tão iguais, o meu pai
– Foste logo
herdar o mais feio olha que pontaria a tua
e de facto
tive pontaria, fui logo herdar o mais feio, ainda se fosse a boca, ainda se fossem
os olhos, a boca que pede
– Fica comigo
os olhos que a
acompanham calados
– Fica comigo
tu, para
dentro, contrariado
– Estou feito
tu para dentro
a odiares-me
– Olha-me esta
odiares-me
exagero, farto
– Estou bem
arranjado
que se percebe
na prega da testa, uma concessão aborrecida
– Fumo um cigarro
e vou
os cigarros
eram a tua medida, fumo um cigarro e faço isto, fumo um cigarro e faço aquilo,
és a única pessoa que marca o tempo pelos cancros do pulmão, o meu pai teve um,
coitado, para o fim parecia um passarinho, ainda me disse num fio, na véspera
de falecer
– Que ideia a
tua ires logo buscar o nariz julgo que com ciúmes de não lhe ter ido buscar
parte nenhuma e realmente, sempre podia ficar-lhe com a barriga mas não engravidei
nunca, graças a Deus, apesar de solteira fazia as minhas coisas mas tomava cuidado,
eles não não queriam casar
– Estamos melhor
assim não estamos?
não estávamos
melhor assim mas de que me servia contrariá-los, a verdade é que também não
insistia muito, acabava por dar-lhes razão, pensava
– Estamos melhor
assim
cada um com a
sua liberdade eu que queria lá saber da liberdade, queria um homem em casa, mas
detesto passar camisas a ferro e ver o estendal da marquise cheio de peúgas a
secarem sinceramente não me apetecia, um homem dá um trabalhão que não acaba,
quando adoecem chás atrás de chás, moribundos, piegas, quando não estão doentes
não param na sala, há sempre o velório do tio de um amigo, sempre um rapaz que
precisa de uma mãozinha no carburador do automóvel à noite, chegadas de madrugada
porque os carburadores complicados e além disso cheiram a perfume e deixam
marcas de baton no colarinho, que esquisitos os carros, o teu cigarro já a
meio, tu em silêncio, as últimas fumaças de pé
– Disse que
até acabar o cigarro
e a chupá-lo
como um danado, de bochechas côncavas, a cara de repente magrinha, uma argola
de fumo, duas argolas de fumo, o filtro esmagado no cinzeiro
– Vou andando
enquanto eu
gritava para dentro
– Fica comigo
embora calada,
quer dizer ouvias de certeza as minhas súplicas caladas porque respondias
– Talvez volte
amanhã
e quando um
homem promete
– Volto amanhã
refere-se a
daqui a um mês, isto com sorte, a desculpa ao telefone
– Tenho tido
trabalho que nunca mais acaba
e o trabalho que
nunca mais acaba a loira do cabeleireiro que, por ser gorda, exige tempo, mais
segredinhos, mais cócegas naquela extensão toda, por acaso conheço-a
– Tudo bem
Florbela?
brincos que
são argolas enormes, vestido três números abaixo, o cãozinho, nota-se o soutien
à transparência sustentando dois mundos, se te digo
– A Florbela
uma expressão
de espanto
– Quem é?
mas os
olhinhos alarmados que não enganam ninguém, a Florbela mais nova do que eu,
vinte e sete, vinte e oito anos e eu quase quarenta, um princípio de papada,
uma variz traiçoeira, um cabelo branco que encontrei ontem no espelho, não,
três, qualquer dia vou à Florbela pintar isto, os cabelos brancos, palavra de
honra, desanimam, a Florbela
– Não há quem te
ponha a vista em cima
eu, para dentro
– E a ti não
há quem te estrangule cabra acompanho-te à porta sem coragem de repetir
– Fica comigo
visto cá de
cima, do patamar, uma rodela de calvície, já te agarras ao corrimão, já desces
mais devagarinho, a porta da rua fecha-se quase sem barulho, isto é num estrondo
insuportável, volto para dentro, sento-me no sofá, comparo o meu peito com o da
Florbela e perco, comparo-me toda com a Florbela e perco, a minha mãe faleceu
igualmente, há seis meses, sobra o seu nariz na minha cara, alguma coisa sua permanece,
já viu e, à falta de melhor, sorrio. Não sei a quem se destina o sorriso mas
alguém há-de encontra-lo um dia destes.
quarta-feira, 19 de setembro de 2012
APETECE-ME!
Sigo ao longo
desta rua da Baixa, no tumulto da gente ociosa que vagueia e da gente apressada
que regressa a casa, à hora em que o sol, já ruivo, se despede dos telhados
mais altos e flameja no Castelo. Vou de nariz no ar, gozando a tépida alegria
da minha segurança. Amo a cidade, as ruas alinhadas, o tráfego, o rumor, o
formigueiro humano, o clarão eléctrico das montras, o asfalto que a rega deixou
polido como um espelho. A cidade sorri nervosamente, e eu respondo-lhe com um
sorriso de amor. Gosto dos gestos ritmados do agente de capacete claro, que
rege a orquestra confusa e trepidante do trânsito. Olho, junto de um poste, os
eléctricos que passam, as pernas das mulheres que se descobrem, a subir e a
descer sem cessar, e os rostos felizes, sorridentes, calmos, os lábios
vermelhos, os olhares lânguidos que se oferecem das vidraças dos autos
reluzentes.
Apetece-me… Apetece-me… Nem sei o quê. E
vibro de alegria, feliz de me sentir anónimo, arrastado, nesta hora calorosa e
comovida, pela palpitação da vida urbana. Sou um burguês. Levo na mão direita,
com a bengala de malaca, suspenso dum dedo enluvado, este pequeno embrulho.
Sigo em frente, e paro junto duma frutaria que derrama na rua a complicada
rescendência dos seus frutos dispostos em filas, em renques, em pilhas, em
cestos e tabuleiros, ou suspensos de ráfias e de arames. Olho as uvas cristalinas,
voluptuosas como seios minúsculos de virgens… Como a natureza perfuma a civilização
e casa com ela os seus aromas para lhe dar um encanto maior! Detenho-me a
aspirar a graça destes frutos, que o olhar das mulheres acarida de desejos.
Frutos e mulheres, a luz do entardecer, os clarões da rua, o marulho do
tráfego, tudo parece fundir-se num mesmo perfume que me dá um desejo, uma
volúpia, uma euforia indefinível... Apetece-me!
Apetece-me!…
Nisto, vejo
adiante de mim o vulto duma llIulher Nisto, vejo adiante de mim o vulto duma
mulher humilde que passa, com mais pressa do que eu, em frente destas lojas, e
sem as olhar. Leva uma criança ao colo, embrulhada no seu mesmo xaile, e na mão
direita carrega um grande cabaz. É uma nota dissonante… Percebo-lhe as costas
magras, abauladas e tímidas. De súbito escorrega perigosamente, oscila, e cai
para a esquerda, sobre a criança! Correm pessoas alarmadas. Corro também, mas
já não chego a tempo de a ajudar. Mãos solícitas levantam-na. Ficou vermelha –
vejo-lhe o rosto magro, a expressão assustada – e o menino chora. Durante um
segundo observo a angústia do seu olhar preso no filho. Depois foge à pressa,
sem mesmo agradecer aos que a ergueram do chão. Leva a saia, as mãos e o xaile
sujos da lama viscosa do passeio. Alguém murmura: «Foi uma casca, é um perigo!»
Outros protestam: «Deviam ser obrigados a limpar os passeios!» E logo a onda
rola, indiferente, ao seu destino. Cruzam-se no ar risos, murmúrios, retalhos
de conversa. Uma cólera absurda ferve-me no peito. Mas porquê? Que lhe hei-de
eu fazer? Partir-lhe a montra? Passo também, o incidente depressa se me funde
na memória, e recaio na minha voluptuosa divagação.
Anoiteceu por
completo, as lojas engolem e vomitam clientes, os transeuntes hesitam nos
passeios, olham irresolutos as grandes montras que inundam de vivas claridades
o pavimento escuro. Mais longe, noutra rua, um velho lívido e magro leva às costas,
sobre uma saca de linhagem dobrada, um pesado tambor de ferro. Tem uma barbicha
rala, cinzento-amarelada. Os seus olhos, baços e encovados, fitam o chão com o
terror de o ver fugir. Doente? Cansado? Um velho. Arrasta a perna esquerda sob
o peso, e pára a espaços como se esperasse cair subitamente fulminado. Sigo
atrás dele, atraído, fascinado pela sua miséria, e a angústia contagia-me – sou
eu que levo o peso enorme, sou eu que vou cair exausto! Sinto os músculos
retesados do esforço, e arrasto já também a perna esquerda. Se ele pára, eu páro.
Cada paragem me parece mais longa, e mais penoso o esforço de arrancar. O
volume escorrega-lhe dos ombros, e o velho curva-se mais para ajeitá-lo melhor.
Impossível!, vai cair, vai-se despedaçar, ficar esmagado, que será dele,
depois? – A minha agonia é tamanha, que dir-se-ia aquele peso ir-me cair no
peito. Levo a mão esquerda à cara, tapo a boca para não protestar. E não posso,
não poso fazer nada! O meu embrulho, as luvas, a bengala… (Apetece-me! Apetece-me!) A multidão que passa, esta gente que
trabalha e que goza, que é forte e juvenil, e nos habituámos pelos livros a
supor que também sofre, nem sequer olha o velho, que lá segue o seu caminho,
como os animais e os carros, no asfalto da rua. Ninguém repara nele.
Sinto de novo a
cólera crescer em mim, desta vez surda, triste e impotente, contra o destino,
contra mim próprio, contra este mundo egoísta. Os pequenos sofrimentos de cada
dia deixam indiferente esta gente a um tempo simpática, brutal e singular. E eu
sou tal qual assim… «É a nossa hora!», penso com cinismo, para me consolar.
«Que fariam aos mais estes que sofrem, se pudessem também fazer sofrer!»
O velho
decididamente oscila, procura firmar-se nas pernas frouxas, trôpegas, cambadas.
A perna esquerda, esta minha perna esquerda que fraqueja! Adivinho-lhe a dor
física, agravada pela consciência da velhice condenada, inútil, que a vida
explora e calca. Crispo as mãos de raiva. Eu
sou culpado! Somos todos culpados daquele sofrimento, daqueles farrapos,
daque1a perna frouxa, daquele destino, da vala comum que um dia…
Dois homens
detêm-se (enfim!) a olhá-lo, e os seus olhares fazem coro com os meus. Ficamos
os três a distância, a avaliar o peso daquela desgraça, no meio da rua
atroadora, num protesto inerte e por enquanto mudo. Qual de nós é que ousaria… Até
que um diz: «Ladrões! Quem carrega assim um velho merecia que lhe dessem um
tiro!» (Não sei qual deles falou.) Mas alguém sabe, porventura, o que significa
esta cólera cega, inútil e cruel? Eles pararam e olharam. Eu parei e olhei. O
velho recompôs-se não sei como. «Irá ele com uma pinga a mais?», diz um deles.
Encolhem os ombros e afastam-se os dois a rir.
A minha raiva,
depois do escape das palavras anónimas, sumiu-se. E como o velho já se perde no
burburinho, sinto uma secreta advertência de que aquilo é um caso passado em
julgado. Respiro aliviado, liberto do momentâneo pesadelo da responsabilidade,
e afasto-me também, tão insensível ou prudente como os outros. São horas de me
ir chegando à janta. No meu fundo há talvez uma certa alegria, que me vem de
experimentar a piedade: a alegria de me sentir bom, de compreender a dor, de
simpatizar, de me revoltar (em palavras ou pensamentos só) contra a injustiça… Parece
que acabo eu de cumprir o meu dever!
Casos destes,
todos nós os podemos contar. De que serve flagelar-me com o remorso do meu
egoísmo, irmão de tantos outros? Julgamos cumprir o nosso sagrado dever, não é
assim, só porque experimentamos a piedade que humilha, a cólera que cega. Mas
os nossos braços caem inúteis, e as nossas mãos andam atadas às luvas, à
bengala, aos embrulhinhos…
Sou um burguês,
um burguês incorrigível!
(Seara Nova,
1927)
terça-feira, 18 de setembro de 2012
La alternativa de las barricadas
" Durante las históricas rebeliones,
sin prisas ni delirios,
con frecuencia
la gente
en las barricadas,
no discierne su significado.
Barricadas de adoquines - contra el desamparo.
Barricadas de poesía - contra la imprudencia.
Barricadas de conciencia - contra la ligereza.
En las barricadas -
no se está por la vanagloria.
Ni por capricho, ni por venganza.
Brincar - es oficio de chimpancés.
La hombría no se deja deshonrar.
Nada mundano hay en el barroco de las barricadas.
¡Lanzan la sífilis los cupidos,
cuando rehíla la bala junto al oído!
Así que demoraos en el nicho,
peces atolondrados y resbaladizos,
primeramente los más excitables,
aquellos, en particular, que padecen escalofríos.
Y, en segundo lugar, que se aleje, por favor,
quien, como si fuera un bolo, teme ser derribado.
La muerte - no es una derrota.
En las batallas victoriosas
también existen los caídos.
Bajad de las barricadas, héroes hasta la primera carga,
y detened las maniobras de los filisteos.
En las barricadas tienen derecho a estar
los rebeldes,
enemigos
y enfermeros. "
sin prisas ni delirios,
con frecuencia
la gente
en las barricadas,
no discierne su significado.
Barricadas de adoquines - contra el desamparo.
Barricadas de poesía - contra la imprudencia.
Barricadas de conciencia - contra la ligereza.
En las barricadas -
no se está por la vanagloria.
Ni por capricho, ni por venganza.
Brincar - es oficio de chimpancés.
La hombría no se deja deshonrar.
Nada mundano hay en el barroco de las barricadas.
¡Lanzan la sífilis los cupidos,
cuando rehíla la bala junto al oído!
Así que demoraos en el nicho,
peces atolondrados y resbaladizos,
primeramente los más excitables,
aquellos, en particular, que padecen escalofríos.
Y, en segundo lugar, que se aleje, por favor,
quien, como si fuera un bolo, teme ser derribado.
La muerte - no es una derrota.
En las batallas victoriosas
también existen los caídos.
Bajad de las barricadas, héroes hasta la primera carga,
y detened las maniobras de los filisteos.
En las barricadas tienen derecho a estar
los rebeldes,
enemigos
y enfermeros. "
(Ucrania, 1930)
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
S. Martinho de Anta, 17 de Setembro de 1980
S. Martinho de Anta, 17 de Setembro de 1980 – Ao alargar-me os
horizontes do mundo, com necessidades de toda a ordem a que já não posso
renunciar, a vida fez de mim um ser ubíquo. Tenho aqui as raízes de suporte e
lá longe as pastadeiras…
domingo, 16 de setembro de 2012
S. Martinho de Anta, 16 de Setembro de 1980
S. Martinho de Anta, 16 de Setembro de 1980 – Começo a desconfiar da paz
que aqui sinto. Dantes não era tanta…
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
SONETOS
I
A meu Pai doente
Para onde fores, Pai, para onde fores,
Irei também, trilhando as mesmas ruas...
Tu, para amenizar as dores tuas,
Eu, para amenizar as minhas dores!
Que coisa triste! O campo tão sem flores,
E eu tão sem crença e as árvores tão nuas
E tu, gemendo, e o horror de nossas duas
Mágoas crescendo e se fazendo horrores!
Magoaram-te, meu Pai?! Que mão sombria,
Indiferente aos mil tormentos teus
De assim magoar-te sem pesar havia?!
— Seria a mão de Deus?! Mas Deus enfim
É bom, é justo, e sendo justo, Deus,
Deus não havia de magoar-te assim!
II
A meu Pai morto
Madrugada de Treze de Janeiro.
Rezo, sonhando, o ofício da agonia.
Meu Pai nessa hora junto a mim morria
Sem um gemido, assim como um cordeiro!
E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro!
Quando acordei, cuidei que ele dormia,
E disse à minha Mãe que me dizia:
“Acorda-o”! deixa-o, Mãe, dormir primeiro!
E saí para ver a Natureza!
Em tudo o mesmo abismo de beleza,
Nem uma névoa no estrelado véu...
Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas,
Como Elias, num carro azul de glórias,
Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu!
III
Podre meu Pai! A Morte o olhar lhe vidra.
Em seus lábios que os meus lábios osculam
Microrganismos fúnebres pululam
Numa fermentação gorda de cidra.
Duras leis as que os homens e a hórrida hidra
A uma só lei biológica vinculam,
E a marcha das moléculas regulam,
Com a invariabilidade da clepsidra!...
Podre meu Pai! E a mão que enchi de beijos
Roída toda de bichos, como os queijos
Sobre a mesa de orgíacos festins!...
Amo meu Pai na atômica desordem
Entre as bocas necrófagas que o mordem
E a terra infecta que lhe cobre os rins!
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
Roma, 1 de junho de 2012
Depois da
visita a lugares de interesse vário, ao Teatro Valle Occupato, à
livraria Fahrenheit do Campo
de Fiori, à Casa Internazionale
della Donna (antiga prisão de mulheres), às ruínas de Caracala, à Piazza Navona, fomos hoje
visitar a casa do poeta John
Keats e o cemitério
protestante onde estão os túmulos de Shelley e Keats. Ali lemos, na
tradução de Fernando
Guimarães (Relógio
d’Água), o poema Adonais
de Shelley escrito em
1821 em honra do jovem Keats:
“É por Adonais que choro – ele está morto!/ Chorai por Adonais, ainda que as
lágrimas/ Não libertem do gelo essa cabeça amada!”
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
Veneza, 29 de maio de 21012
Ninguém pode
morrer sem visitar Veneza
pelo menos uma vez. Encontrar os espaços de silêncio e de poesia nesta cidade
sem carros é uma arte no meio de milhares de turistas. Mas consegue-se, a pé,
por pontes, becos, ruas estreitas e canais. Instalámo-nos no velho Palazzo
Mocenigo, o mesmo onde Byron
viveu, perto da Ponte
Accademia. Hoje é possível, embora difícil, alugar naquele edifício um
estúdio no rés-do-chão encostado ao Grande Canal.
Sai mais barato do que um hotel. Sente-se que se está em casa própria, vendo o
espelho de água, os vaporettos,
os cais, as gôndolas,
as luzes, o movimento. Hoje de manhã fomos apanhados pelo terramoto e a casa
dançou levemente como se estivesse em cima de uma jangada, sobre lamas e
estacas. Ontem estivemos no caríssimo e emblemático café literário Florian, na Piazza S. Marco.
Imperdível.
terça-feira, 11 de setembro de 2012
Dia 11 [Setembro de 2009]
O regresso
A sessão de
evocação da obra e da figura de Jorge de Sena, realizada
no Teatro de São Carlos
em 10 de Julho de 2008, teve um título que a esta distância facilmente
parecerá premonitório: Jorge de Sena – Um
regresso. Para falar do autor de Sinais de Fogo
reunimos ali, além de um representante da Fundação, para o caso o seu patrono,
algumas das pessoas mais qualificadas do pensamento literário e critico
português: Eduardo
Lourenço, Vítor
Aguiar e Silva, Jorge
Fazenda Lourenço e António Mega
Ferreira, cujas participações contaram com a inteligente moderação do
ministro da Cultura, José
António Pinto Ribeiro. A sala do São Carlos estava cheia até às torrinhas,
o que mostra que a premonição, se o era, estava a ser partilhada por umas
quantas centenas de pessoas. Houve leitura de poemas por Jorge
Vaz de Carvalho e o pianista António
Rosado interpretou composições sobre as quais Sena havia escrito. Quem
esteve lá não esquecerá nunca. No final a Fundação ofereceu a cada um dos participantes
um estojo com chaves: as que deveriam abrir as portas necessárias para que
Jorge de Sena regressasse definitivamente ao seu país. Não, não foi premonição.
Simplesmente, o que tem de ser, tem de ser e tem muita força. A força de todas
aquelas pessoas, quase um milhar, unidas no mesmo pensamento: que volte Jorge
de Sena, que volte já. Voltou, enfim. Não sei se ficámos mais ricos. Mais conscientes
das nossas responsabilidades, sim. Poucas coisas agradariam tanto a Jorge de
Sena.
José Saramago, O CADERNO
Winifred (1927)

Localização: Coleção Particular
Autor: Ben Nicholson
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
Lucca, 20 de maio de 2012
Dia de chuva,
para contentamento da Hélia. Uma pausa no calor de final de Maio. Estamos na
bela Toscana dos bosques,
das aldeias, dos vales, das Villas e dos Alpes Apuanos. Bom ar
fresco, respiração aberta, paisagem verdíssima e forte, arvoredo denso que
constrói túneis enormes. A natureza fascina-nos. Por alguma razão, para os
italianos da classe média e para os estrangeiros ricos é “bem” ter uma casa na
Toscana.
Lucca fica a poucas
dezenas de quilómetros de Pisa.
Conhecida pelas ruas estreitas e pela antiga praça principal de magnifica arquitectura
– praça do Teatro
Romano, redonda, pequena, com o casario cheio de janelas e portadas, com
entradas em arco. Lucca possui também umas termas famosas, os Bagni de Lucca,
igualmente frequentadas pelos Shelley.
Após umas
corridas, já que dispenso chuva pesada e fria, chegamos ao antigo e lindíssimo
Caffé Literário Caselli, hoje chamado Simo,
na via Fillungo. Mantém a
traça com balcões, vidraças, espelhos, cadeiras de madeira, salas, mesas de
tampo de mármore, muitas luzes e um piano. Existe uma placa evocativa do senhor
Caselli, amigo de escritores
e pintores, e um mural onde se pode ver as caras de Quasimodo, Benedetti, Ungaretti, Mancini, Magri, entre outros. Uma foto de Puccini com a
dedicatória a Caselli assinala no alto da parede a presença do músico.
Com a roupa
num pingo, a Hélia percorreu o café deslumbrada. Pareceu-me que ia dançar. O
empregado de mesa ia no seu encalço, mas era difícil escolher um lugar, tanta era
a euforia. Pedida uma bebida quente, a Hélia protestou contra o preço invulgarmente
alto dos bolinhos secos. Não havia mais nada para comer, o pão esgotara. Ficámos
pelas bebidas. Passados minutos, o gerente do café presenteou-nos com um prato
de bolinhos. Uma oferta da casa.
Deverá ter
suposto – e acertaria – que éramos uns pobres escritores a viver um sonho
qualquer, uma memória literária que ali está guardada, uma coisa de algum modo
sagrada. Riu-se. Por momentos, os seus olhos pareceram felizes.
domingo, 9 de setembro de 2012
Golfo dos Poetas, 19 de maio de 2012
Foi fácil
chegar a Lerici, um pequeno
porto com um imponente castelo empoleirado na ponta que inspirou o pintor Arnold Bocklin, o
autor do quadro “A Ilha dos Mortos”. Bocklin viveu ao lado da Casa Magni, a
casa branca onde habitavam os Shelley, uma mansão de
dois andares e colunas, à beira-mar, que Mary odiava porque naquele tempo era
tudo mato, escuro e lixo à volta e as pessoas eram extremamente pobres e sujas.
Esse local
chama-se San Terenzo, um
minúsculo porto de pesca com os barcos recolhidos nos passeios debaixo dos pinheiros
e também com o seu pequeno castelo que contem memorabilia de Mary Shelley e se
confunde com as casas em redor,
Shelley
chamava à paisagem que avistava em frente à casa, a “Baía
Divina de Lerici”. As casas em Lerici sobem pelas colinas, disfarçadas pelo
arvoredo e rodeadas de laranjais. A paisagem é verde e azul, salpicada pelo
amarelo e cor de tijolo das moradias.
Um passeio
pedestre liga Lerici a San Terenzo, numa inesquecível viagem a pé de uma hora.
Ao longe, para lá das águas, vê-se a aldeia de Portovenere onde vivia Byron e onde tinha a sua
gruta pessoal na qual escreveu a peça The Corsair.
Conta-se que Byron vinha visitar os Shelley a nado, assim como se fosse do Cais
das Colunas ao Barreiro,
o que para o exímio nadador não era nada. Uma horita para cada lado. Levaria
certamente menos tempo do que se viesse em diligência ou a cavalo pela montanha
até La Spezzia, seguindo
depois em subidas e descidas para Lerici.
sábado, 8 de setembro de 2012
Viareggio, 18 de maio de 2012
O mar bate
devagar na praia de Viareggio.
À beira da água, um amontoado de canas, conchas e cortiças estende-se pela
costa. Naquele lugar, em 18 de Julho de 1822, há precisamente 190 anos, onde
agora os banheiros montam os estrados e os toldos para o Verão, apareceu o
corpo naufragado de Shelley.
O naufrágio do “Don Juan” dera-se no percurso entre os portos de Lerici e Livorno.
Algum tempo
depois, na presença de Byron,
o seu corpo foi cremado numa fogueira na praia. Era o que se fazia aos
náufragos na altura. Byron, não suportando o desgosto, lançou-se ao mar e nadou
até ao seu próprio barco. Agora, neste 18 de Maio de 2012, no silêncio da praia,
reparo nas gaivotas e nos corvachos que devoram os restos de comida como se
devorassem as vísceras de Shelley. A sua alma e os seus poemas estão ali, misturados
com as canas molhadas.
Estamos no Golfo dos Poetas, entre
Livorno e Génova ou seja, na costa
banhada pelo grande Golfo
de Génova e pelo Mar
Ligúrio. Ainda em Viareggio, no antigo II Gran Caffe Margherita,
na marginal, no enfiamento da Praça Shelley, pode beber-se um óptimo cappuccino imaginando as
tertúlias do primeiro quartel do séc. XX, frequentadas por Ungaretti, Puccini, D’Annunzio, Toscanini, entre outros,
tertúlias que se transferiam depois do Verão para o famoso Caffè Caselli, em Lucca.
sexta-feira, 7 de setembro de 2012
Pisa, 17 de maio 2012
O rio Arno atravessa Pisa, em semicírculo, enquadrado
por uma dezena de pontes. O autocarro deixou-nos na Ponte della Citadella,
vindo de San Giuliano
Terme, uma vilazinha termal da Toscana, onde viveu a família Shelley. Caminhar
à beira do Arno pela Via Lungarno e
contemplar a água e a velha arquitectura de Pisa é um bem-estar poético. Ali
ficam os antigos Palazzos Toscanelli
e Chiesa.
O primeiro foi morada de Byron e é hoje o Arquivo da Cidade. No meio dos
investigadores circunspectos que lá dentro devoram calhamaços seculares, pode
ver-se o tecto onde sobressai uma pintura com Byron em cima de um cavalo
branco.
Diz-se que,
após as suas conhecidas caçadas e outras aventuras pisanas, Byron subia as
escadarias de pedra do palácio montado a cavalo, em triunfo. Das janelas do Toscanelli via do outro lado
do rio o Palazzo Chiesa (hoje um edifício particular) que era a casa onde viviam
Mary e Percy Shelley. Acenavam-se,
cumprimentavam-se e combinavam encontros. Shelley perdia-se em grandes
caminhadas pelos arredores, muitas vezes até à exaustão, tendo que ser
procurado por criados e autoridades locais.
Continuando
pela margem do Arno, logo a seguir à praça Garibaldi deparamos com o mais
antigo café de Pisa e um dos cafés literários mais conhecidos de Itália, o Caffè dell’Ussero
incrustado, desde 1775, no barroco Palazzo Agostini
(séc. XV), mesmo ao lado do Royal
Victoria Hotel, poiso do ensaísta e crítico pré- rafaelita John Ruskin. Este café,
frequentado por Byron e Shelley era, no séc. XIX, o local preferido dos estudantes
revolucionários liberais e jacobinistas e esteve ligado aos carbonários. Byron
inscreveu-se mesmo na Carbonária em Pisa, apoiando com dinheiro a compra de
armas. E Shelley projectou fundar ali um jornal intitulado The Liberal.
Lutava-se
então pela unificação da Itália. Por ali andou disfarçado Giuseppe Mazzini, o
revolucionário contemporâneo de Garibaldi ao lado do
qual lutou pela democracia popular num estado uno e republicano. Lá está ainda
hoje a portinha clandestina, no interior do Ussero, por onde os estudantes
fugiam quando a polícia do regime investia por ali adentro. Comi ao almoço uma
bela e atomatada sanduiche
italiana, à espera dos novos revolucionários do séc. XXI, mas ninguém apareceu,
não foi por enquanto preciso abrir a porta clandestina. À saída de Pisa, em
queda lenta, vê-se a Torre
Pendente, mas deixemos isso para as invasões de asiáticos, espanhóis,
franceses e brasileiros que rumam de férias a Itália.
Jaime Rocha
A Itália de Byron, Shelley e Keats
Jaime Rocha, 63 anos,
poeta, ficcionista, dramaturgo e jornalista. Autor de, entre outros livros, Melânquico, Beber a Cor, Tonho e as Almas, A Loucura
Branca, Os Que Vão Morrer, Zona de Caça, Lacrimatória e Necrophilia. Recebeu o Grande Prémio APE de Teatro com
a peça O Terceiro Andar
"Gostava de morrer com uma caneta na mão", confessa António Lobo Antunes ao DN
 |
| No Diário de Notícias [2-10-2011], entrevista com o escritor. |
«À data do lançamento do seu mais recente romance, 'Comissão das Lágrimas', e a poucos dias do anúncio do Prémio Nobel, a que é sério candidato, o escritor dá uma rara entrevista, em que fala sobre a sua vida literária.
Não evita pronunciar-se sobre a crise, os aumentos de impostos, nem sobre as figuras políticas que governam o País.»
terça-feira, 4 de setembro de 2012
Chaves, 4 de Setembro de 1980
Chaves, 4 de Setembro de 1980 – Bem gostava de o ouvir com
outros ouvidos e acreditar nas suas apreciações generosas. Mas não.
Infelizmente, em matéria literária, ninguém me pode dar segurança. Insegurança,
sim. Agora tirar-me deste inferno em que me deixa cada obra editada, só a
morte. A publicação de um livro é um jogo em que o autor se arrisca eternamente
numa roleta diabólica, sem nunca chegar a saber se ganhou ou perdeu. E como
precisamente desafio neste momento, mais uma vez, os azares do prelo, é já esse
sentimento de réu em perpétuo julgado que me dilacera. Cada palavra propícia
que eventualmente chega até mim, em vez de consolo, dá-me a impressão de ficar
com a sorte agravada. À mercê do futuro e empenhado ao presente.
sábado, 1 de setembro de 2012
Vergonha da Europa
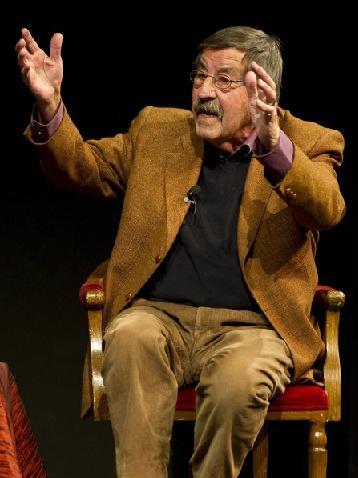 por Günter Grass
por Günter Grass
Tu te afastas do país que foi o teu berço,
próximo do caos, porque o mercado não é justo.
Ao procurar a alma, o que encontrou
é agora considerado sucata.
Como um devedor atado nu ao pelourinho, um país sofredor
deve agradecer o que tu dizes.
A pobreza condenou o país cujas riquezas
adornam museus: obtidas com o teu saqueio.
Com a força dos braços o bem-aventurado país das ilhas
devastado, usava o uniforme de Hölderlin na tua mochila.
Mal tolerado país cujos coronéis vossos
outrora foram tolerados como um aliado.
Perdem direito ao país no qual o teu poder de parceiro legal
apertava o teu cinto cada vez com mais força.
Antígona desafia-o ao vestir de negro e por todo o país
roupas de luto, o povo que tu hospedas.
No entanto, o país tem de despertar o respectivo Creso
de todos aqueles brilhos dourados acumulados na tuas arcas.
Saúde finalmente, bebam! clama a claque dos Comissários
mas irado está Sócrates cujo cálice está cheio até à borda.
A amaldiçoar no coro, o que é característico de vós, os deuses,
exigirão repudiar o Teu Olimpo.
Tu vais definhar privada de alma
sem o país que te concebeu, tu, Europa.
próximo do caos, porque o mercado não é justo.
Ao procurar a alma, o que encontrou
é agora considerado sucata.
Como um devedor atado nu ao pelourinho, um país sofredor
deve agradecer o que tu dizes.
A pobreza condenou o país cujas riquezas
adornam museus: obtidas com o teu saqueio.
Com a força dos braços o bem-aventurado país das ilhas
devastado, usava o uniforme de Hölderlin na tua mochila.
Mal tolerado país cujos coronéis vossos
outrora foram tolerados como um aliado.
Perdem direito ao país no qual o teu poder de parceiro legal
apertava o teu cinto cada vez com mais força.
Antígona desafia-o ao vestir de negro e por todo o país
roupas de luto, o povo que tu hospedas.
No entanto, o país tem de despertar o respectivo Creso
de todos aqueles brilhos dourados acumulados na tuas arcas.
Saúde finalmente, bebam! clama a claque dos Comissários
mas irado está Sócrates cujo cálice está cheio até à borda.
A amaldiçoar no coro, o que é característico de vós, os deuses,
exigirão repudiar o Teu Olimpo.
Tu vais definhar privada de alma
sem o país que te concebeu, tu, Europa.
Subscrever:
Mensagens (Atom)